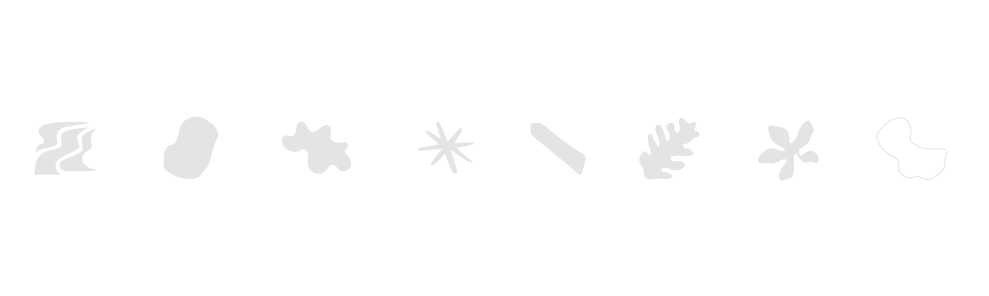Foi assim que aconteceu… Oficina de Escrita Sobre Cinema

Na Casa da Juventude da Tapada das Mercês, durante os dias 28 de outubro e 11 de novembro de 2023, estudantes do secundário e licenciatura participaram numa oficina de escrita sobre cinema. Durante duas tardes (14h00 às 17h30), os estudantes entraram em contacto com o universo da escrita de textos sobre cinema, guiados pela programadora, investigadora e crítica de cinema, Cátia Rodrigues. Após o encontro, os participantes foram convidados a escreverem textos sobre as curtas metragens apresentadas na sessão do ciclo de cinema Rebentos.
Esta oficina teve como objetivo estimular os jovens de Sintra e dos concelhos vizinhos na escrita sobre cinema e oferecer uma formação onde puderam explorar este género literário. Em parceria com o Rebentos – Mostra de Cinema Emergente, a programação da área da Literatura da Claraboia pretende ser transdisciplinar e estabelecer uma maior proximidade entre as pessoas do Concelho e o panorama artístico contemporâneo.
PROGRAMA:
Aula 1 28/out – 14h00 à 17h30
- O que é a escrita sobre cinema? Que formas pode assumir um texto sobre um filme – texto crítico, ensaístico, de análise, etc?
- Enquadramento teórico a partir de dois autores – Serge Daney e João Bénard da Costa
- Visionamento de excertos de filmes (a definir) e leitura de textos e excertos sobre os mesmos
- Dar a conhecer diversas plataformas online dedicadas ao cinema
Os participantes escolheram um dos filmes da sessão do Rebentos que aconteceu no dia 4/nov às 18h na Casa da Juventude da Tapada das Mercês e enviar um texto com cerca de 500 palavras no dia anterior à aula seguinte (11/nov)
Aula 2 11/nov – 14h00 à 17h30
- Leitura e discussão dos textos enviados (todos os textos estarão previamente corrigidos e editados)
- Um futuro para a escrita sobre o cinema – breve exposição e discussão sobre as possibilidades e dificuldades neste campo no presente e no futuro
Deste encontro surgiram os seguintes textos:
Para sentir, é necessário convencer.
BALUARTE | Lucas Melo | 2020 | Lisboa,Portugal | Ficção | 22’
Existem alguns riscos que um filme pode correr ao escolher retratar sentimentos, principalmente se tratando de amor e paixão. Percebo que, de forma geral, existe uma tentativa dos filmes reproduzirem esses sentimentos e uma expectativa que o público acompanhe. Este é o grande desafio: apesar do cinema ter inúmeros exemplos de filmes representando o amor, se trata de um sentimento muito subjetivo e íntimo, que se conecta de diferente forma em cada pessoa. Se não há ligação, o filme se torna uma grande tortura.
Considerando todas essas dificuldades que um filme pode encarar de representar e convencer o amor, acredito que “Baluarte” não convence, mas brilha tentando. Seja no escuro exagerado, nos cortes secos, no silêncio e no som delicado de alguns objetos, existe um movimento que cativa a atenção e cria uma curiosidade para entender para onde aqueles diálogos despretensiosos vão levar. Apesar disso, alguns efeitos sonoros ou naturais, como o canto dos pássaros e o barulho da mata acabam atraindo mais a minha atenção e sendo mais interessantes do que os personagens em primeiro plano.
A cena final ganha profundidade quando os diálogos são utilizados em off com cenas da floresta em movimento rápido. Como se ali, naquela cena, a importância de abrir mão do amor se transparecesse no movimento urgente das folhas.
“Baluarte” tem o seu prestígio, mas para funcionar, como outros filmes de amor, é necessário uma ligação com o público.
Marcos Paulo Cardoso Avelino
Do Subsolo para o Andar de Cima e do Andar de Cima para o Subsolo,
IN THE UPPER ROOM | Alexander Gratzer | 2022 | Áustria | Animação | 8’
Resumindo Deleuze de forma tão simples que logo de seguida há penitência de orações ao pós-estruturalismo – a equação Cinema pede, por norma, Imagem + Movimento + Tempo e este novelo tem resultado também na camada “Espaço”. Como cabe um enredo na mina do cenário? Tema complexo e com muitas espinhas a arranhar o céu da boca curiosa, desde logo por depender da maleabilidade desse mesmo cenário… Podendo este ir das minimais paredes brancas de Paixão de Joana D’Arc (Dreyer, 1928) às madeiras ardilosas, trabalhadas para a vertigem, de Charles Chaplin em Tempos Modernos (Chaplin, 1936).
Poderá alegar-se que a contemporaneidade traz um novo estatuto ao espaço e que, por vezes, tem o dom (mais ou menos subtil) de o passar para o plano da Personagem. É claro que o secular Gabinete do Dr. Caligari (Wiene, 1920) trazia já uma certa mística aos caminhos expressionistas do terror e não teria o mesmo impacto sem as arestas tortas e as ruas em bico, mesmo que possuída de uma função decorativa. Houve também a inolvidável novidade das City Symphonies de Dziga Vertov (O Homem da Câmara de Filmar, 1929) aos primórdios de Oliveira (Douro, Faina Fluvial, 1931), que veio confirmar uma noção contemplativa importante no contexto e na influência basilar do espaço.Procurei evidências da transformação do espaço em elemento crucial e vivo no enredo. Comecei por mergulhar no subsolo de In the Upper Room (Gratzer, 2022) e vi o binómio vida-morte de espaços trocados – debaixo da terra vive o avô, a toupeira-cega que alenta o legado do neto na arte de partir nozes e no fecho de ciclo por estações do ano. A toca, para lá de abrigo, é um lugar de metamorfose e aprendizagem, já que o “andar de cima”, por oposição, é a camada do desconhecido, onde a vida do avô acaba. O cíclico, no contraste dos dois espaços, não pede o fatídico de um anular o outro. Há prendas e curiosidade no “andar de cima”, mas o esclarecimento, a partilha e a entrega dão-se na toca.
A toca está nos antípodas da Caverna de Platão, numa elasticidade natural, na medida do passar do tempo (representado pelas estações do ano), esse abrigo vai dilatando a experiência do neto e as passagens do testemunho do avô. O espaço, aqui, é personagem.
Relacionando espaço vazio com a ideia de memória, chega-se a Rilhafoles (Palma, 2022). Rilhafoles é um espaço emblemático que atravessou metade do século XVIII até aqui com vidas diferentes e mutações várias
– foi convento, colégio militar, hospital psiquiátrico, museu…
O edifício do hospital psiquiátrico encerrou em 2011 (inaugurado em 1848). Diogo Palma foca no estado devoluto e abandonado do local, cruzando-o com retratos antigos, rimando-o com o ex-contexto. Sublinha o valor da memória com a exploração do vazio pelo ruído da cantina, pelos pacientes no pátio, por retratos e objetos que têm somente uma referência de apoio.A curta-metragem culmina num final arrepiante, o peso da imagem decrépita de um gato em decomposição vem alavancar o knock out do símbolo do abandono. O espaço, aqui, é a personagem.
A título de curiosidade, fui dar com um artigo do Diário de Notícias, de 17 de agosto de 2022, que cito abaixo:
De acordo com a proposta de loteamento que está nos serviços camarários, e que o DN consultou, nos terrenos do Miguel Bombarda serão construídos três novos lotes de habitação, com seis a oito pisos, destinados a arrendamento acessível. Mas não só. Está também prevista a construção de um estabelecimento hoteleiro, com um número de camas ainda por definir, que ficará instalado no edifício do antigo convento de Rilhafoles e onde funcionou o hospital psiquiátrico Miguel Bombarda, desde a sua abertura, em 1848, até ao encerramento definitivo em 2011. Há ainda um quinto lote, que ocupará a antiga cozinha, e a que será dado um uso comercial, previsivelmente de restauração.
No âmbito desta operação urbanística, uma parte dos terrenos (que são propriedade do Estado) será cedida à Câmara de Lisboa para a construção de uma escola básica 123 (com os três ciclos do ensino básico), com capacidade para mil alunos, e um jardim infantil. Já o conjunto classificado desde 2010 como sendo de interesse público – que abarca o pavilhão Panótico, uma singular construção em círculo que funcionou como enfermaria/prisão, e o Balneário D. Maria II – será requalificado, ficando como “equipamentos culturais/museológicos”. Ao que o artigo indica, prevêem-se novidades para Rilhafoles em breve…
A comédia negra de Sara Priorelli e Maria Zilli, Sweet Dreams (2022) tem também uma intensa relação com o espaço. O motel onde se desenrola a trama é a panela perfeita para os ingredientes precariedade + monotonia + rudeza das hóspedes resultarem no grande massacre que fecha o filme.
Uma espécie de Bowling for Columbine (Moore, 2002), num estalar risonho e profundamente irónico a dar ouvidos ao enfado e ao desespero da empregada, que, por fim, relaxa numa piscina tarantinesca. Aqui, o espaço pode ter tanto de paisagem como de força motriz.
O cinema amortece a queda livre do olhar. Alude à disposição dos elementos que o compõem a partir das diferentes dimensões e amplitudes do espaço envolvente (ou da ausência de um). Este remoinho de ideias, regressando às curtas abordadas, pode bem culminar nas mais belas e surreais viagens:
– Do Subsolo para o Andar de Cima e do Andar de Cima para o Subsolo.
Manuel Seatra
Olhar o tempo em Rilhafoles
RILHAFOLES | Diogo Palma | 2022 | Lisboa, Portugal | Experimental | 5’
“Rilhafoles”, de Diogo Palma, abre com a imagem de uma porta fechada. Estamos do lado de dentro dessa porta, na penumbra. Por entre os vidros, vemos os vestígios das árvores e da luz do outro lado.
De porta em porta, entramos neste lugar que ainda não tem forma sob o nosso olhar. Tanto os enquadramentos como aquilo que é filmado são marcados pela ideia do fragmento – são fragmentos de um espaço onde encontramos fragmentos do passado.
A montagem liga estes fragmentos e dá-lhes um tempo e uma cadência. Tempo que vivemos como corpos viajantes que atravessam os vários corredores e divisões, que ouvem o silêncio dos quartos vazios e pisam o entulho deixado no chão. Na sequência dos planos fixos, constrói-se o retrato de um lugar esquecido – um espaço ao abandono que nos é dado a ver por pedaços.
É um lugar feito de restos, de coisas deixadas para trás. Estes vestígios do tempo, guardados no filme, levam-me a “Les glaneurs et la glaneuse”, em que tão bem nos mostrou Agnès Varda que o cinema pode ser um gesto de colheita e o realizador as mãos que colhem. “Rilhafoles” faz o seu movimento de recolha no Hospital Miguel Bombarda.
Quando aparece a primeira fotografia, o filme desdobra-se numa outra dimensão e passa a oscilar entre dois tempos. O passado sempre esteve lá, mesmo nas imagens do presente, mas agora os dois tempos são colocados em espelho (talvez numa associação de imagens demasiado direta).
Ao ver estes rostos e estes corpos quase conseguimos imaginá-los a ganharem a vida, a mexerem-se diante dos nossos olhos e a interagirem connosco. Mas, as imagens são fixas, imóveis no tempo e no espaço. Trazem uma suspensão do momento capturado e das pessoas captadas. A fotografia é essa preservação do instante.
Trata-se de uma outra dimensão do respigar e do cinema, o gesto de salvar do esquecimento, de resgatar da passagem do tempo, de cristalizar. Ficam guardadas as expressões atormentadas e indecifráveis dos antigos pacientes e das vidas que em tempos lá foram vividas, os seus nomes escritos nas paredes.
São eles os fantasmas que habitam o espaço agora deixado a si mesmo. Um espaço em ruínas, mas onde a luz irrompe, onde a natureza penetra, onde o vento passa. Os sons que ouvimos são ruídos do exterior, sinais de uma vida que acontece lá fora e que de alguma forma passa para dentro.
Revejo o plano filmado de um lugar escuro que através de uma abertura circular nos dá a visão do exterior. Num diálogo inegável com “Jaime”, de António Reis, este plano é o eco da sequência inicial do filme de 1974.
Nessa altura, os círculos deixavam entrever os homens (ou as suas silhuetas) no pátio do hospital. A câmara à mão procurava-os, na sua “crueza de observação”. Nas palavras do próprio António Reis: “Podia dizer-se que se espreita para qualquer sítio, assombrado com o que se vê, ou para não ser visto, e não se pode mostrar o espaço todo”. São os velhos jogos do cinema: entre quem vê e quem é visto; entre o que se mostra e o que se esconde; entre a luz e a sombra; entre o dentro e o fora. Agora, não há ninguém para encontrar e a câmara mantém-se estática. Mas, os jogos são os mesmos.
Estando o espaço vazio ou habitado, não consigo deixar de ver estes planos como uma representação do gesto de fazer cinema – o olhar através de uma objetiva, o olhar da câmara para o mundo.
Questiono apenas a escolha da imagem final em “Rilhafoles” – o cadáver do gato, que numa foto anterior vemos vivo. Não consigo deixar de ler no plano a intenção de mostrar uma imagem mais violenta apenas para que haja um fator de choque final. O plano procura uma representação da morte explícita e direta, que me parece um esvaziamento da atmosfera lúgubre que já pairava, de forma mais subtil, sobre todo o filme.
Sinto-o mais como um filme sobre o tempo do que sobre a morte. No entanto, as duas dimensões andam de mão dada e, por isso, a morte está presente desde o início. Aliás, partimos dela, de um espaço “morto” (tal como em “Jaime” partimos de uma vida que já tinha acabado).
“Rilhafoles” sente-se como um filme em que o espaço é o inquestionável protagonista. É a história de um espaço em diálogo com o tempo, cujo resultado é a criação de um mundo fantasmático, ao mesmo tempo sinistro e fascinante, vivo e morto.
Laura Lemos
Entre o presente e o passado
RILHAFOLES | Diogo Palma | 2022 | Lisboa, Portugal | Experimental | 5’
Rilhafoles é invulgar para quem não é local. O título que comumente anuncia o tema do filme, não cumpriu sua função aos que daqui não são, e passou a ser um termo abstrato. Como não foi o título que começou, a imagem veio primeiro, cumprindo seu primordial papel de mostrar.
No começo é apenas mais um edifício abandonado, com marcas de uso e do tempo, uma sequência de planos fixos, em que quase se duvida se é vídeo ou fotografia. As disposições das paredes descascadas vão caracterizando o ambiente, mas é só quando os vestígios da presença humana aparecem que se dá a entender do que se trata. Um hospital psiquiátrico. Nenhuma surpresa aos que perceberam pelo título, mas aos sem conhecimento prévio, entenderam no mostrar e na sequência das imagens.
A sutileza da conjugação de imagens analógicas do passado, com os vídeos que retratam o hoje, fazem uma ponte entre o presente e o que se foi, trazendo mais pessoalidade e características vivas ao que inicialmente eram cômodos abandonados. Existe uma certa frieza e distância nas imagens, que é quebrada com as fotografias dos pacientes ali hospedados. Vê-se um cabideiro…a princípio não provoca nenhum pensamento, mas no grande plano, lê-se nomes perto de cada gancho; seriam só mais paredes perdidas no tempo, se não fossem os rostos e os nomes. Percebe-se que a mudança, com sutileza, quebra a frieza e a impessoalidade, com o vestígio da presença humana.
Com caráter documental, mas sem linguagem verbal, apenas os planos imagéticos, complementados por um áudio simples de barulho sutís, trazem mais presença às imagens das memórias. Por mais que não conte uma história direta, conta por meio dessa relação do passado com o presente e as marcas do tempo, um pouco do que se passou em Rilhafoles, antigo hospital psiquiátrico de Lisboa, que agora já se entende como título.
Bárbara Martins
DE REPRESENTAÇÕES DE MORTE A ROTINAS FIRMES DA SOLITUDE
BALUARTE | Lucas Melo | 2020 | Lisboa,Portugal | Ficção | 22’
IN THE UPPER ROOM | Alexander Gratzer | 2022 | Áustria | Animação | 8’
Diz-se de “baluarte” que é uma “espécie de fortim construído onde as muralhas formam ângulo”, ou até, no sentido figurado: “local onde se reúnem ou recolhem os defensores de uma ideia, de uma causa ou de um partido”. No filme de Lucas Melo, Baluarte, é partidário que ele próprio, na personagem principal, se deixe cair no estendal da personagem secundária, depois de uma tentativa infrutífera de tocar bateria, fazer a cama e regar as plantas, como se o dia tivesse por que partir ante uma tentativa de suicídio. É no decorrer da narrativa que ambos se deixam reunir por uma causa “impassível ao frenesim das paixões humanas”, mencionando a sinopse. Assim, abalroam-se as muralhas que apenas a primavera permite doirar por entre uma refeição, um passeio pela natureza, cigarros e um retorno à habitual vida rotineira, levando-os em sendas que se diferem dentro do mesmo prédio. Em In The Upper Room encontramos paralelismos com visitas fortuitas quando se levantam questões humanas, julgando que a força do hábito não implica necessariamente uma quebra com essa mesma rotina, ampliando indagações que duas pessoas levam juntas ao longo de um caminho percorrido.
Contrariamente ao enleio transversal de Baluarte e In The Upper Room, tem-se igualmente o desprendimento da rotina que se segue em Sweet Dreams. Zili e Priorelli contam com o desgaste costumeiro de uma vida reincidente que perde controlo dela própria numa personagem copiosa pela repetição dos dias num motel associado à devassidão e contrário à monotonia da convivência entre hóspedes. É nesse fio condutor que em Anacleto disse que não, Hugo Bastias disside através de uma veia menos realista, transportando-nos por lugares mais abstratos que semeiam a imaginação não obstruída por temas tão humanos representados em alegorias associadas a símbolos como feijões e maçãs. Já em Howl, é no escoamento de uma realidade algo séria que se abre igualmente uma trajetória para o inadequado através de uma personagem que se verifica inusitada para o contexto em que se encontra.
Independentemente do vínculo que atravessa todas estas curtas, é clara a investida num tema comum entre todas, como o “desfecho natural de todos os ciclos”, citando o resumo desta sessão de cinema emergente que conta com a participação de diversos formatos e estilos que convergem na ideia basilar de morte.
Milene Coroado
Estou-te a ver, rapaz
IN THE UPPER ROOM | Alexander Gratzer | 2022 | Áustria | Animação | 8’
É claro que os avós comem coisas esquisitas – nozes. E nem percebemos que tipo de nozes são. Percebemos só que são esquisitas e impróprias para consumo em gaiatos. Começamos a apreciá-las apenas com uma certa idade.
“In the Upper Room” segue duas personagens, um jovem e o seu avô conforme este envelhece e come nozes.E nunca pensamos que comer nozes pudesse ser alguma vez bonito.
Quando vemos o avô pela primeira vez, ele era apenas menino, minúsculo. Alexander Gratzer brinca com a noção de tamanho e duração duma forma mordaz. Damos-lhe mais valor. Os anos escorrem em segundos. É como se nos lembrássemos dos momentos importantes apenas…
Falando deste avô, vemos que não é propriamente o dele, mas sim o nosso. Uma caricatura da identidade e conceito “avô” tanto hoje em dia como há anos atrás. O boné que pode ser de qualquer gasolineira, a comida esquisita, o brasão inscrito no braço. Talvez sem esta marca brejeira poderia ser qualquer avô de qualquer cidade de qualquer aldeia de há 1 ou 100 anos atrás. A sua casa (ou toca) está recheada de interessantes artigos. Uma guitarra, um fato, uma planta… Mas o destaque vai mesmo para as nozes, nas suas caixas e caixas.
Não sabemos quando estamos. O seu tamanho perde imponência conforme avançamos, conforme o igualamos no tempo. Conforme os avós também perdem o interesse.
“I feel the same”
Conforme também nos vamos sentindo mais iguais a eles…
Na cena seguinte o caminho já é mais leve, mas ainda confuso, mostrado pelo estático quadro inquietante antes do caminho. O mundo parece mais pequeno, o avô parece mais pequeno, pois nós estamos maiores. Estamos a crescer e é confuso, é confuso como parece que o avô não está a crescer, mas a ficar mais parecido connosco. O discurso descomplica, nem se lembrando do próprio chapéu que o neto levara, nem se apercebendo do próprio martelo que lhe era tirado…
Todos temos estes familiares, infelizmente. E quando os vemos o seu mundo muda muito. Tanto que lhes podemos dar e tirar tudo e nem se apoquentam.
“É para o meu neto, não faz mal.” ouvia a minha avó quando se despedia de datados materiais escolares, os seus materiais escolares. Agora meus materiais escolares, porque as suas folhas de cálculo, eram as minhas folhas de cálculo, eram as NOSSAS folhas de cálculo quando me ajudava com a matemática. Deu-me o bloco com medo e peso. As contas eram fáceis, infelizmente. Para ambos. Ela não me ajudou assim tanto.
De repente aquelas contas tornam-se noutras, que a avó já não sabe responder, já não entende como se fazem e estamos assim trancados. Em contas, em estudos, em ideias, em tantas ideias que nem temos tempo de parar. Nem de fazer responder a perguntas que não venham em enunciados.
“Why haven’t I asked any questions lately?”
E, às vezes, a vida é mesmo isto. Perguntar de mais ou perguntar porque é que não perguntamos, pestanejar e terem passado anos, suspirar perante a beleza do mundo que tanto desprezámos mas agora fica escassa.
Na última visita, vemos aquele Sol tão bonito e tão frágil. Segue-se um suspiro. Finalmente somos do mesmo tamanho. Já não somos aquela formiga irritante a esbanjar pólen pela casa, ou o pirralho com um rebelde chapéu virado. Só o avô sabe que é a última. Mesmo quando à frente só vê fome, só vê nozes. Ou uma forma de as quebrar…
Zagalo Pereira
Ficha Técnica
- Coordenação: Giulia Dal Piaz
- Formação e edição dos textos: Cátia Rodrigues
- Comunicação: Giulia Dal Piaz e Joana Enes
- Design: Ivânia Pessoa e Mariana Correia
- Produção: Giulia Dal Piaz, Ivânia Pessoa, Rita Teixeira e Mariana Gavela
- Fotografia: Mariana Gavela
- Apoio: Câmara Municipal de Sintra
- Agradecimentos: Divisão de Educação e Juventude da Câmara Municipal de Sintra